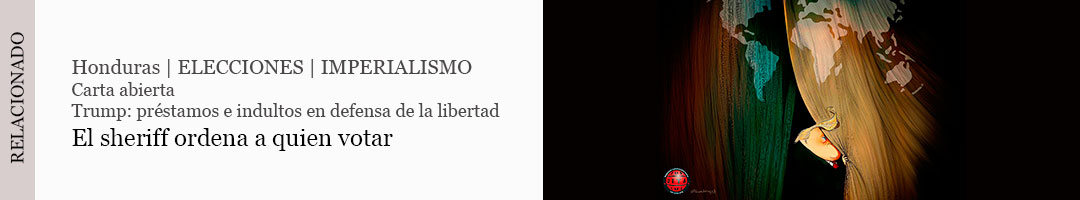Joesley Batista: emissário de ninguém
Num continente acostumado a ver a realidade zombar da ficção, Joesley Batista, coproprietário da JBS, decidiu acrescentar um novo capítulo ao manual do realismo mágico. O magnata da carne, mais famoso por fazer governos tremer do que por salvá-los, decolou de São Paulo rumo a Caracas para pedir a Nicolás Maduro uma renúncia “dialogada” ao estilo Donald Trump.
Carlos Amorín
9 | 12 | 2025

Assim, sem mandato, sem investidura, sem Estado por trás — apenas seu Bombardier 7500, sua fortuna e aquela autoconfiança tão latino-americana com a qual alguns multimilionários acreditam poder resolver crises políticas enquanto o restante mal consegue resolver a lista do supermercado.
A Bloomberg e meios brasileiros reconstruíram a “patriada”: na noite de 23 de novembro, Joesley levantou voo rumo ao coração do chavismo, supostamente para oferecer uma saída negociada do labirinto venezuelano.
Sua empresa, a JBS, apressou-se em esclarecer que o viajante “não representa nenhum governo”. Uma frase que na América Latina não tranquiliza ninguém: exatamente os que mais influenciam são os que não representam ninguém.
A viagem coincide com o telefonema direto de Donald Trump exigindo a renúncia de Maduro. Coincidência, pressão combinada ou sincronia de interesses, o resultado é o mesmo: a política externa norte-americana terceiriza gestões a empresários de confiança, como quem encomenda uma entrega urgente a um courier privado.
Se algo define o nosso tempo é essa diplomacia por subcontratação: governos frágeis cedem terreno, e o capital —mais rápido, mais opaco, mais impune— avança onde os Estados recuam.
Mas Batista não chegou a Caracas como um improvisado. Durante os anos mais duros da crise alimentar venezuelana, seu conglomerado foi fornecedor-chave de carne e frango para o governo.
Quando a população enfrentava filas intermináveis e o salário se pulverizava, os navios frigoríficos continuavam entrando. Hoje esse passado comercial é apresentado como credencial diplomática: o homem que abasteceu o país faminto agora pretende convencer o líder a dar um passo ao lado.
Uma parábola latino-americana perfeita: a economia sustentando a política, e a política sustentando a economia… até que um dos dois decide mudar as regras do jogo.
Nos Estados Unidos, segundo vazamentos, estavam cientes da viagem, mas sem exposição pública. O velho truque imperial: observar de lado, deixar fazer, avaliar depois. Se funciona, celebra-se a “criatividade diplomática”.
Se fracassa, nega-se toda participação. No fundo, a verdadeira mensagem é que nem mesmo a pressão do Norte se exerce mais a partir de embaixadas ou departamentos de Estado — agora circula em jatos privados que decolam entre o silêncio da madrugada e o barulho dos hangares.
Do outro lado da ponte aérea, Maduro segue instalado em sua narrativa constante: complôs externos, sanções injustas, conspirações tecidas em Miami. A visita de Joesley não o moveu um centímetro.
Nem renúncia, nem transição, nem diálogo real. Apenas mais um episódio que Caracas pode usar para alimentar sua retórica do inimigo onipresente. O magnata retorna a São Paulo; Maduro continua encapsulado; a crise continua sendo crise.
Mas o episódio deixa uma imagem que vale mais que a anedota: a diplomacia clássica foi substituída por uma rede flexível de operadores privados, contratistas políticos, fornecedores do Estado e homens de negócios que se sentem no direito de intervir onde os diplomatas já não podem ou não se atrevem.
A era da geopolítica líquida, em que as fronteiras do Estado se dissolvem e a política externa se negocia entre corredores acarpetados e hangares exclusivos.
O caso de Joesley não é uma excentricidade: é uma síntese. Da captura corporativa do Estado brasileiro, do colapso institucional venezuelano, da decadência da diplomacia regional e do novo ecossistema onde aqueles que concentram riqueza também concentram interlocução política.
Em palavras simples: nesta parte do mundo, poucos voam enquanto os demais apenas observam a decolagem.
A viagem a Caracas não mudou o destino da Venezuela, mas iluminou —mais uma vez— a fragilidade do continente: basta que um empresário decida brincar de estadista para que os governos sejam reduzidos a espectadores de sua própria tragédia.